A morte de pessoas em surto psicótico durante abordagens policiais no Rio Grande do Sul deixou de ser um episódio isolado. Os casos registrados em Guaíba, Santa Maria e Porto Alegre revelam um padrão alarmante: famílias recorrem ao Estado em busca de ajuda e recebem, como resposta, a força letal. O problema não é pontual — ele expõe o despreparo da Brigada Militar para lidar com crises de saúde mental e a permanência de um modelo de segurança pública que responde ao sofrimento psíquico com violência.
Surto psicótico é uma emergência médica. Ainda assim, o que se observa na prática é a conversão dessas situações em ocorrências policiais tratadas sob a lógica do confronto. Pessoas em estado de confusão mental, muitas vezes incapazes de compreender ordens ou avaliar riscos, passam a ser vistas como ameaças a serem neutralizadas — e não como cidadãos em situação extrema de vulnerabilidade.
Salta aos olhos a similaridade dos casos. Famílias desesperadas acionam a polícia como último recurso e acabam presenciando a morte do próprio familiar, diante de seus olhos, sob o argumento posterior de legítima defesa. O pedido de socorro transforma-se em tragédia.
Em Guaíba, o caso de Carlos Eduardo Nunes, de 44 anos, tornou-se símbolo dessa falha estrutural. Em junho de 2025, durante uma abordagem policial, Carlos Eduardo — que estava em surto — foi imobilizado por um policial com uma técnica semelhante ao mata-leão. Ele entrou em coma e morreu semanas depois. Familiares e testemunhas apontam uso excessivo da força e denunciam que a contenção resultou em asfixia. O caso aprofundou o debate local sobre proporcionalidade, preparo e responsabilização.
Cada pessoa morta em surto psicótico tinha nome, história, vínculos e afetos. Não era um “suspeito”, não era um “alvo”, não era um “confronto”. Era alguém em sofrimento profundo, pedindo socorro — ainda que sem palavras. Quando o Estado responde a esse sofrimento com violência, não falha apenas operacionalmente: falha moralmente.
Uma sociedade que aceita que o pedido de ajuda termine em morte precisa se perguntar que tipo de proteção está oferecendo — e a quem. Enquanto famílias continuarem enterrando seus entes queridos por terem confiado no poder público, não haverá discurso de ordem, legalidade ou legítima defesa que silencie essa pergunta incômoda: quem protege quem está em sofrimento?
Até que essa resposta exista, cada nova morte não será apenas uma tragédia individual, mas um espelho de uma escolha coletiva — a de tratar a dor humana como ameaça e a bala como solução.
Em Santa Maria, Paulo José Chaves dos Santos, de 35 anos, morreu em janeiro de 2026 durante intervenção da Brigada Militar enquanto enfrentava um surto psicótico. A versão oficial sustenta legítima defesa, mas familiares afirmam que ele estava desarmado e que não houve esgotamento de alternativas não letais.
Já em Porto Alegre, o caso de Herick Cristian da Silva Vargas, de 29 anos, escancarou a mesma lógica. Diagnosticado com esquizofrenia, Herick estava em surto dentro de casa quando a própria família acionou a Brigada Militar pedindo ajuda. O atendimento terminou com o jovem morto por disparos de arma de fogo, também sob a justificativa de legítima defesa.
A repetição quase automática desse argumento, sem investigações amplamente independentes e transparentes, contribui para a naturalização da letalidade policial em contextos que exigiriam cautela, negociação e intervenção especializada. Quando a morte se torna um desfecho recorrente em crises de saúde mental, não se trata de falhas individuais, mas de um problema estrutural e institucional.
Esses episódios também evidenciam a ausência de integração efetiva entre a segurança pública e a rede de saúde mental. A polícia segue sendo acionada como resposta primária — e, muitas vezes, única — a crises psiquiátricas, sem formação adequada em desescalonamento, protocolos específicos ou apoio de equipes multiprofissionais.






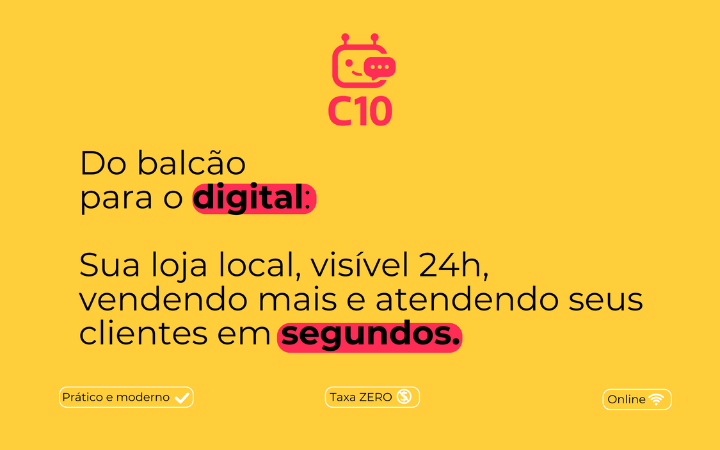













Comentários: